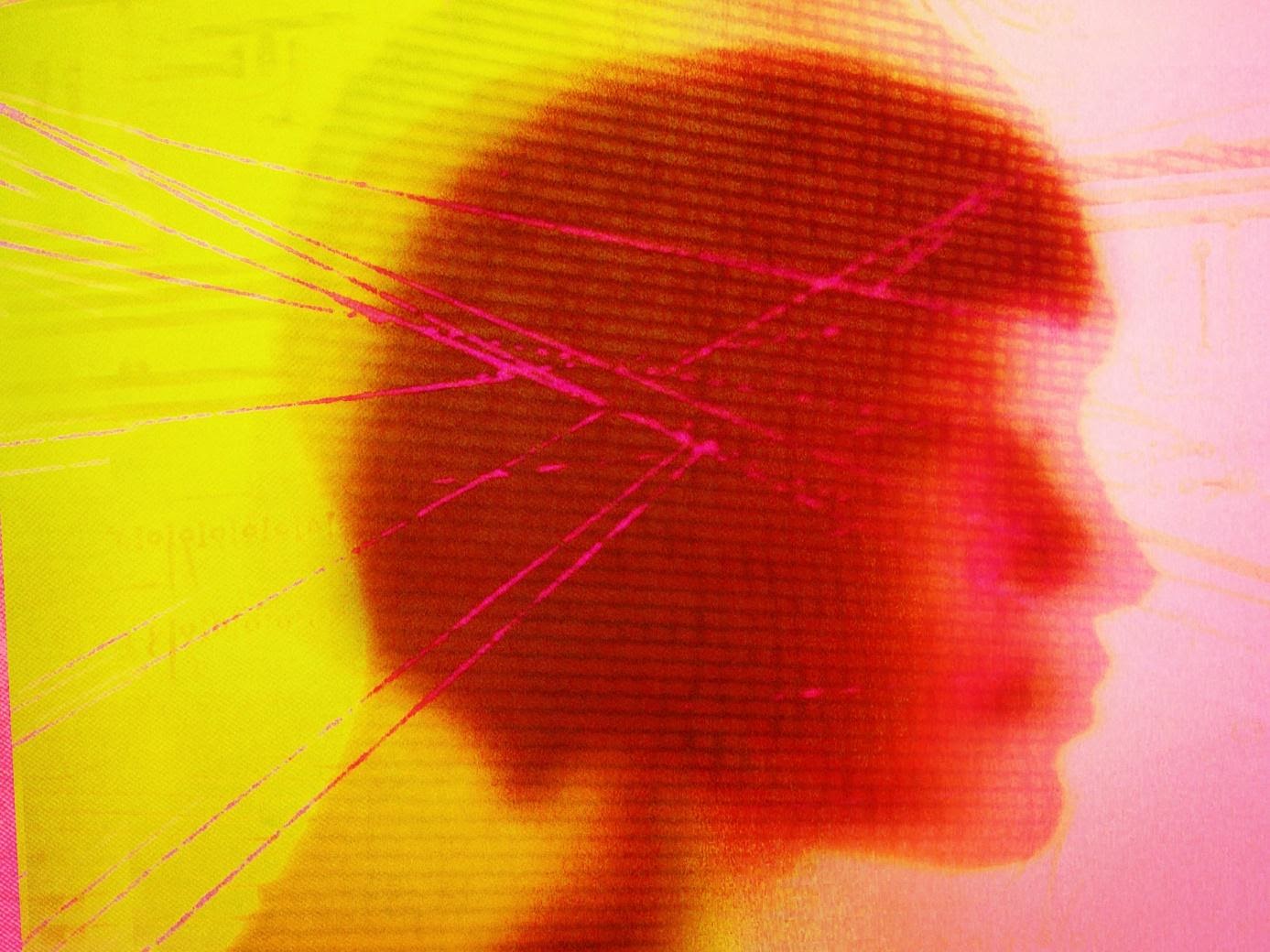Compulsão
É uma manhã de domingo como todas as outras. Debruço-me no parapeito da janela da cozinha que beija as traseiras do prédio de trás e que me dá visão privilegiada para a janela da Madame Marie Dumont. “Bonjour, voisin!”, grita ela em plenos pulmões a pouco mais de três metros de mim, enquanto estende a roupa no varal. Sussurro-lhe um sorriso. É uma senhora amável, mas tem esta mania insuportável de pendurar aleatoriamente as roupas no estendal. Umas do avesso, outras do lado certo. Umas do lado certo, outras do avesso. Sem qualquer concordância de cores: camisola amarela, calças azuis, vestido escarlate, camisa azul, meias amarelas. De repente, sinto o suor a escorrer-me por entre os dedos, desequilibrando o cigarro húmido que seguro entre o dedo médio e o indicador. Aquela imagem perturbadora repete-se de forma incessante na minha cabeça e, de súbito, intensas palpitações invadem-me o peito e tornam ofegante a respiração. Basta! Desvio o olhar e repouso-o no monocromático véu azul que espreita nas alturas. Aos poucos, a voz silencia-se.
Termino de fumar o meu cigarro e de tomar o meu café. Os sabores fundem-se numa simbiose alucinante e invadem sem piedade os espaços a que cada um pertence, deixando para trás um rasto amargo e nicotizado. Declarada cúmplice deste atrevimento, poupo-me a qualquer intromissão entre os prazeres das manhãs de domingo (que são poucos).
Lavo pela terceira vez a chávena de café vazia e coloco-a na primeira gaveta do louceiro da cozinha, na fileira das outras chávenas de café, paralela à fileira das chávenas de chá. Certifico-me de que estão todas alinhadas e fecho a gaveta. Abro-a. Fecho-a novamente.
Limpo os grãos de café torrados que ficaram na cafeteira italiana e lavo-a por fora e por dentro, por dentro e por fora. Asseguro-me uma última vez de que não restou qualquer mancha e arrumo-a na prateleira do lado direito, junto ao açucareiro (mas não demasiado perto). A dois dedos de distância talvez. Alinhada. Um milímetro mais para a direita e um tiquinho mais para o centro.
O meu coração entra em desaforo! Sinto germes a esgueirarem-se pela minha pele e a contaminarem-me por dentro! Corro para a casa de banho e esfrego exasperadamente as mãos e o rosto com uma escova de cerdas ásperas, tingindo a minha tez pálida de uma vermelhidão inflamada. Aos poucos, a voz silencia-se.
São agora nove e meia e o tempo urge. Dentro do meu guarda-roupa, tal paleta de cores estrategicamente posicionadas, do preto mais preto ao branco mais branco, faz-me rejubilar de satisfação. Prendo a camisa branca de seda por dentro da saia pied de poule que tirei de um dos cabides do lado esquerdo do armário (o lado das cores mais claras) e enfio nos pés uns botins castanhos de couro ainda por estrear.
Saio de casa e tranco a porta (cinco vezes). Até ao rés do chão são vinte degraus de uma oscilante escada em caracol. Desço cinco degraus, subo dois. Cinco para baixo, dois para cima. Os olhares dos vizinhos que por mim passam já não se mostram curiosos, como das primeiras vezes. A maior parte assumiu de bom grado que é superstição ou pagamento de uma promessa e eu até prefiro que assim seja.
Ao virar da esquina, o sedutor aroma amanteigado a croissants folhados anuncia a fornada acabada de sair no Le Bistrô, formando filas intermináveis à porta. Poucos metros mais à frente está a entrada para a estação de metro de Jacques Bonsergent, que marca o início do meu trajeto.
Entro na carruagem do metropolitano, decidida a ir até ao fim desta vez, sem qualquer interrupção inoportuna. Revi o caminho pelo menos cinco vezes ontem à noite – não há nada que enganar: République, Oberkampf, Richard Lenoir, Bréguet Sabin, Bastille. Corro rapidamente em direção a um dos assentos disponíveis no fundo do vagão, esquivando-me dos asquerosos varões metálicos e de qualquer obstáculo no meu caminho. Sento-me, agora segura de que o perigo já passou, e subitamente sinto vir na minha direção remanescências salpicantes de um espirro incontido pelo lenço de papel ensopado do senhor sentado à minha frente. Começo a transpirar intensamente por todos os poros e uma sensação nauseabunda invade-me o peito. Que sufoco! As portas fecham-se. É tarde demais. A minha cabeça rodopia num turbilhão incontrolável de imagens e de repetições constantes: a janela da cozinha entreaberta, o vinco na almofada da cama, a beata no cinzeiro, a colher de café no lava-loiças, o bico do fogão aceso, o estendal da vizinha, a porta de casa destrancada. O batimento cardíaco é cada vez mais acelerado e as vozes na minha cabeça repetem-se incessantemente, tornando o ar irrespirável.
É então que o vejo. Ao fundo da carruagem, com uma silhueta esguia, alongada e completamente imóvel. Usa um chapéu fedora preto de aba média, deixando apenas visível o olhar penetrante e o sorriso malicioso que me causam calafrios. Já o tinha visto antes, mas nunca tão perto. Sinto a cabeça a latejar e o suor gela-me a testa. Ele avança pelo corredor na minha direção. Em segundos, imagino todos os cenários hipotéticos que poderão conduzir ao meu desfecho mortal. Ele avança a passos largos com a mão dentro do bolso do casaco onde guarda a arma que me tirará a vida dentro de segundos. Está a chegar! É agora!
Abrem-se as portas e ele sai, desaparecendo entre a multidão.
Revisto por Ana Roquete
AUTORIA
Sempre gostou de pensar através da escrita. A sua curiosidade conduziu-a a becos sem saída, e escrever ajudava-a a encontrar respostas e a refletir sobre elas. Há uma parte de si que só é visível quando escreve e, por isso, dificilmente alguém que não a leu, a conhece. Descobriu no Jornalismo uma forma de mostrar o seu olhar sobre o mundo, e agora procura mudá-lo para melhor.