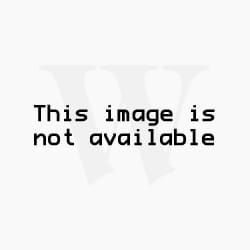A Segunda Traição Das Imagens
Em 1929, René Magritte mostrou ao mundo o seu icónico cachimbo que não permitia que se fumasse por ele. Contexto: no quadro do surrealismo, Magritte pintou um vulgar cachimbo, ao qual adicionou a legenda “Ceci n’est pas une pipe”, traduzido “Isto não é um cachimbo”. O objetivo era simples: mostrar como as imagens são apenas representações da realidade, mas não são a realidade em si, o que contrariava toda a lógica da arte clássica.
Efetivamente, não se poderia fumar por aquele cachimbo em específico, porque era apenas um desenho. É um pouco como aquela história da mesa e da ideia de mesa, proveniente dos diálogos platónicos de A República – o filósofo grego usava o exemplo da mesa para explicar que há uma diferença entre uma mesa em particular que é sólida e permite colocar coisas em cima e a ideia de mesa, isto é, o conceito geral que abarca e designa todas as mesas do mundo que partilham entre si um conjunto idêntico de características, mesmo que sejam mais altas, mais baixas, azuis ou rosa.
Enfim, voltando a Magritte, há cem anos eram outros tempos: os artistas plásticos ainda sabiam escrever ensaios teóricos.

Permita-me o pintor belga que utilize a sua obra, atualmente exposta em Los Angeles, como mote para uma breve reflexão. E também como imagem que decora este texto, pois, caso contrário, o leitor nem tinha chegado até aqui.
As redes sociais democratizaram a cultura visual a um ponto-limiar que a banalizou. O valor de um fotógrafo ou de um designer está hoje envolto numa neblina de engodos e cercado por todos os lados por marketing, paracultura, paraarte, o que se quiser chamar. O número de seguidores, assim como a letra da copa do sutiã, define o mercado de possível retorno económico daqueles que trabalham no ramo da cultura visual. Ou o que eles acham ser cultura visual: pano para um debate de que me demarco.
O linguista russo Aleksandr Potebnia, precedente aos intelectuais do movimento formalista russo do início do século XX, dizia que a poesia consiste em pensar por imagens. Numa extrapolação mal contextualizada, podemos afirmar que também nos dias de hoje se pensa muito, e sobretudo, por imagens. “Sobretudo” é aqui a palavra-chave.
O pensamento por palavras encontra-se catastroficamente vedado a uma circulatura de intelectuais e académicos encurralados nas suas conferências e nas suas revistas académicas que não chegam ao grande público. E os poucos que vão chegando, como Yuval Harari, são acusados pelo próprio quadro de pares de ser, e passo a citar, “superficial“, com “carência de suporte científico” e “especulativo“. Recorde-se de que, no passado, Nietzsche e Marx, intelectuais de inegável relevância, viram escritos seus deturpados e criminosamente apropriados para fins de legitimação de regimes anti-democráticos.
Tanto o caso de Harari como o caso dos pensadores germânicos são fruto de um impulso cómodo de se ler apenas o que valida as nossas crenças, por falta de literacia e/ou por motivações ideológicas. Para onde caminhamos se nem na academia pudermos confiar?
As imagens estão a trair-nos uma segunda vez. A profusão e fragmentação de imagens como suposto elemento facilitador do entendimento humano estão na verdade a oxidar os nossos neurónios sob a forma de défice de atenção. Como disse recentemente Rui Zink, já não se lê: finge-se que se lê.
Editores de todo o lado aconselham: “Tens de fazer mais parágrafos para facilitar a leitura.“, “Tens de fazer frases mais curtas para facilitar a leitura.“, “Tens de pôr uma imagem para isso não ficar tão seco.“. Facilitar, entreter, facilitar, decorar, facilitar, facilitar, facilitar. Hoje facilita-se tanto que se este texto fosse publicado no Instagram com uma imagem de um pôr-do-sol em sépia em vez de um não-cachimbo, certamente me era concedido o estatuto de “blogger“, “criador de conteúdos digitais” ou “autor de best-sellers“.
Então e as palavras também não traem? É claro que traem e hoje mais do que nunca. A cultura do facilitismo que colocou a imagem, o meme, as stories de quinze segundos e os tweets (que são palavras, mas não pensamentos) num palanque de pseudo-conhecimento colhe agora os seus frutos. Não sabemos desenvolver uma porcaria de uma ideia por escrito. O escritor Javier Marías disse, em entrevista ao Expresso, que não surge uma nova ideia filosófica há décadas.
Parece-me que, nos próximos tempos, estaremos condenados a uma infantil e boçal luta de bons contra maus, de anti-fascistas contra fascistas, de anti-comunistas contra comunistas, de anti-racistas contra racistas. O contexto, a tão mal-amada história, se calhar não cabe nos caracteres máximos do Twitter ou nas balelas inspiracionais do Instagram. Mas deveria, presumo, caber nas edições online da imprensa. Ao invés, o jornalismo, mais por falta de qualidade dos jornalistas do que por falta de tomates, cai de forma penosa neste engodo dos não-assuntos, dos não-debates, das não-causas – em suma, neste estrabismo coletivo que nos leva a perseguir fatalmente o supérfluo.
É bom? Venera-se. É mau? Proíbe-se. E quem ousa colocar-se num meio termo é apelidado de “radical”. No espaço público, o contexto, a verdade, o argumento e a palavra estão mortos. E a imagem, perdoem-me os fotógrafos, é uma das causas do óbito. A imagem, principalmente a imagem digital, trouxe de arrasto um imediatismo comunicativo que aprisiona por completo as reflexões de maior fôlego. E não, isto não é, de todo, uma reflexão de maior fôlego.
Vem do senso comum: ser informado, moderado e sensato é bastante aborrecido. Vejamos. Se procuras informar-te, analisar e refletir com tempo e ponderação sobre um assunto fracturante, com o intuito de dar uma opinião, já perdeste o comboio, porque já não estamos a falar dos cães de Santo Tirso, mas do ator Bruno Candé assassinado por um senhor idoso.
E para a semana há de ser o Woody Allen, o Carrilho, a L’Oréal, o pivô da SIC Notícias ou outro qualquer mote de debate importante boicotado em prol de quinze segundos de protagonismo e uma indignação que um chá de camomila resolveria. “Isso já perdeu atualidade.”, “Isso já não está a bater.“, ouve-se nos corredores do novo mundo. Se, por outro lado, não comentas ou não tomas partido, é porque és conivente com o sistema e um conformista inenarrável. Nunca se coloca como possibilidade o hoje tão revolucionário ato de não agir, de não ser produtivo, útil ou visível, por opção.
Não há saída. Num tempo em que os moderados são radicais e em que as palavras lúcidas estão a ganhar pó nas bibliotecas, sinto que é meu dever, e assunção de urgente inevitabilidade, calar-me perante esta guerra desigual de armas contra palavras, de pós-verdade contra verdade, de imagens que toldam contra palavras que iluminam.
No fundo, isto já nada tem que ver com Magritte ou Platão, com imagens ou traições. Tem que ver simplesmente com a triste descredibilização dos formatos textuais em favor dos formatos imagéticos, quando entendo que o texto continua a ser a primordial ferramenta de pensamento rumo ao progresso civilizacional. Descrédito este sob o argumento da facilidade, da rapidez, do embelezamento. Que é como quem diz: quem semeia simplismos colhe chegas (sim, o partido, e sim, em minúsculas, como a pequenez das suas propostas).
Revisto por Ana Cardoso
AUTORIA
Um indivíduo que o relembra, leitor, de que os livros e as opiniões são como o bolo-rei: têm a relevância que se lhe quiser dar. O seu maior talento é insistir em fazer coisas que não servem para nada: desde uma licenciatura em literatura luso-alemã, passando por poemas de qualidade mediana, rabiscos de táticas de futebol (um bizarro guilty pleasure) ou ensaios filosofico-autobiográficos, sem que tenha ainda percebido porque e para que o faz. Até porque já ninguém sabe o que é um ensaio.